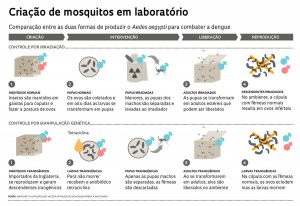Plantas petrificadas revelam como era há quase 300 milhões de anos a paisagem onde agora ficam Tocantins e São Paulo
Anatomia fóssil revelada ao microscópio
Samambaiaçus de 15 metros de altura ao longo dos rios e coníferas nas
áreas mais secas. Em menor quantidade, plantas aparentadas às atuais
cavalinhas (que se parecem com canudos verticais não mais longos do que
1,5 metro) nos dois ambientes. Era essa a vegetação de uma área próxima
ao município de Filadélfia, no Tocantins, no início do Permiano, há
quase 300 milhões de anos. Nesse período, os blocos que formam a América
do Sul eram agrupados de modo bem diferente e estavam mais ao sul no
planeta – a região onde está São Paulo, por exemplo, era coberta por
geleiras. À medida que esses blocos migraram para regiões mais quentes
da Terra, a flora pôde migrar. Mais próximo ao fim do Permiano, cerca de
270 milhões de anos atrás, já havia vegetação onde agora é o interior
paulista.
“Eu apostava que encontraria mais semelhanças entre os fósseis desse
período encontrados na bacia do Parnaíba, no Nordeste, e os achados na
bacia do Paraná, no Sudeste”, diz a paleobotânica Rosemarie Rohn Davies,
da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio Claro. “Mas só as
samambaias são parecidas.” Esse retrato de um passado distante é
resultado do testemunho de troncos e folhas petrificadas, estudados pela
equipe de Rosemarie e por pesquisadores da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), com financiamento da FAPESP, e da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
A análise dos caules dessas samambaias gigantes, que ainda jazem
quase inteiros no Monumento Natural das Árvores Petrificadas do
Tocantins, e também de folhas que parecem rendas de pedra, foi tema do
doutorado concluído em 2011 pela bióloga Tatiane Marinho Vieira Tavares,
agora professora temporária na Universidade Federal do Tocantins, em
Araguaína. Ela descreveu a anatomia e a morfologia desse material, que
pertencia aos gêneros Psaronius e Tietea – este último
também encontrado na bacia do Paraná, tema do mestrado da pesquisadora.
Aparentemente, as samambaias conseguiram avançar do norte para o sul ao
longo dos milhões de anos, à medida que o Gondwana, o supercontinente
que abrigava boa parte dos continentes hoje no hemisfério Sul, se
deslocava para o norte e se tornava mais quente.
 As
folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem
diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com
qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito
paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,
um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os
paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos
fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma
mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie
diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram
muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase
de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa
característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a
bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa
protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num
ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias
dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso
são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a
subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos
quais elas cresciam.
As
folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem
diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com
qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito
paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,
um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os
paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos
fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma
mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie
diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram
muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase
de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa
característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a
bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa
protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num
ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias
dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso
são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a
subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos
quais elas cresciam.
Em meio às samambaias, mas não só, cresciam esfenófitas, hoje
representadas apenas pelas cavalinhas e estudadas pelo ecólogo Rodrigo
Neregato, que recentemente concluiu o doutorado com Rosemarie. Ele
descreveu cinco espécies novas de Arthropitys e encontrou dois
tipos distintos: um com uma medula bem grande, que sugere um hábitat
próximo à água, e outro com um caule mais suculento, que devia conferir
às plantas uma estrutura mecânica adequada para a vida em solo firme, um
pouco mais afastado dos rios.
© RAFAEL FARIA/PUC-CAMPINAS

Caule petrificado de conífera…
Novidade antiga
As análises revelaram plantas bastante diferentes do que dizem os
livros, a começar pela capacidade inesperada de viver em solo seco. Elas
também parecem maiores do que se acredita. “Temos exemplares de 3
metros que não compreendem a planta completa”, explica Neregato. Mas o
que ele antecipa causar mais surpresa são as raízes verticais, em vez do
rizoma horizontal postulado para esse grupo de plantas. “Temos um
exemplar com raiz conectada ao tronco, o único até agora conhecido”,
comemora. Ele acredita que o padrão vale para as outras esfenófitas da
época, melhorando a absorção de água e a fixação no solo instável. “Era
um peso bastante grande, uma estrutura em T invertido não seria capaz de
sustentá-lo.”
Longe dos rios a paisagem era dominada por gimnospermas, semelhantes
aos pinheiros atuais. Por causa dessa especialização ecológica, os
fósseis petrificados dessas plantas são bem menos abundantes do que os
de samambaias. A sílica dissolvida na água é a responsável por preservar
as estruturas anatômicas em três dimensões. Quando a planta caída
começa a se decompor, seus tecidos liberam gás carbônico que acidifica a
água alcalina, precipitando a sílica que penetrou nas células vegetais.
Mais longe dos rios, as coníferas tendiam a se decompor mais
rapidamente e os fósseis são mais raros. Era por isso um grupo menos
estudado, até que Rosemarie sugeriu à bióloga Francine Kurzawe, à época
doutoranda no grupo de Roberto Iannuzzi na UFRGS, investigá-lo. “Na
maior parte das vezes temos acesso apenas a fragmentos pequenos já muito
rolados, com as camadas mais externas desgastadas”, conta Francine,
atualmente pós-doutoranda na Universidade de Londres.
© FRANCINE KURZAWE/UNIVERSIDADE DE LONDRES

… e de samambaia: estrutura tridimensional é preciosa para paleobotânicos
Em dois artigos publicados este mês na Review of Palaeobotany and Palynology,
ela descreve uma série de novas espécies de coníferas, além de
estruturas inusitadas. “A medula das gimnospermas fossilizadas tem
canais que representam adaptação a um clima seco”, conta, corroborando
as condições climáticas denunciadas pelas folhas das samambaias. Segundo
ela, hoje esses canais só existem nas plantas jovens, que perdem a
medula à medida que crescem. Os pinheiros adultos, com o tronco oco onde
já houve medula, não têm esses canais especializados no armazenamento
de água.
A flora estudada por Francine indica semelhanças entre a de Gondwana e
a da Euramérica, atualmente a parte norte do planeta. “A região onde
hoje fica o Tocantins estava no limite entre as duas regiões”, explica a
bióloga. As gimnospermas dali parecem ter permanecido em latitudes
caracterizadas por temperaturas mais amenas, sem migrarem ao sul. É o
que indicam os fósseis, todos diferentes daqueles do Tocantins,
encontrados em sete municípios no interior paulista e estudados pelo
paleobotânico Rafael Faria durante o doutorado na Unicamp, orientado por
Fresia Ricardi-Branco.
Faria, agora professor na Pontifícia Universidade Católica de
Campinas, estudou madeira petrificada – ou permineralizada, como
preferem os especialistas – de plantas que viveram há cerca de 270
milhões de anos tanto ao microscópio tradicional como ao microscópio
eletrônico de varredura, que lhe permitiu enxergar melhor as estruturas
celulares. Ele defendeu o doutorado em abril, e a parte que descreve os
fósseis mais bem preservados está em processo de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology.
Uma surpresa foi identificar hifas de fungos em amostras que à
primeira vista pareciam sujas. “É o primeiro registro de fungo
fossilizado em madeira dessa época no Gondwana”, conta o pesquisador,
que interpreta o achado como um indício de colapso do ecossistema. “É
como se houvesse muita matéria orgânica para ser degradada, propiciando a
proliferação dos fungos.”
Ecologia fóssil
O pesquisador de Campinas também descreveu um pouco da ecologia dessas
plantas, a partir do estudo dos anéis de crescimento. Nas regiões
temperadas as coníferas em geral produzem madeira com propriedades
distintas conforme a estação: na primavera e no verão propicia o
transporte de água para a copa (e portanto o crescimento), e no outono é
mais centrada em sustentação. Ao comparar os anéis de crescimento dos
fósseis aos das espécies atuais, é possível inferir se as coníferas do
Permiano perdiam ou não as folhas no inverno. As análises indicaram uma
comunidade com predomínio de árvores perenes, que não se desfolhavam,
sobretudo na Formação Teresina, cujos fósseis afloram em Angatuba,
Conchas e Laras. A outra formação estudada por ele, Irati (em
Piracicaba, Saltinho, Rio Claro e Santa Rosa de Viterbo), está em
camadas um pouco mais profundas – mais antigas – e abrigava uma
proporção maior de árvores decíduas, que perdiam as folhas no inverno.
Para ele, essas observações corroboram dados anteriores indicando que,
no Permiano, essa região do Brasil estava mais ao sul do que hoje.
© ROSEMARIE ROHN / UNESP

Fileiras paralelas de fragmentos de caules fossilizados, no Tocantins, indicam o traçado dos rios do Permiano
A ecologia permiana no atual Tocantins foi o tema de doutorado de
Robson Capretz sob orientação de Rosemarie em Rio Claro. Ecólogo, ele
estudou os fósseis e sua disposição em uma área da bacia do Parnaíba e
buscou reconstituir como seria a floresta por ali. “Me concentrei na
ecologia dos fósseis, e não na anatomia”, especificou, distinguindo sua
pesquisa daquela conduzida por seus colegas. As principais conclusões,
segundo ele, indicam que a região era muito plana e tinha um regime de
chuvas semelhante ao das monções da Índia, com temporais muito fortes
que periodicamente interrompiam períodos de seca e cobriam a região com
uma lâmina de água razoavelmente espessa. A enxurrada derrubava os
caules, que eram transportados por curtas distâncias e terminavam
alinhados na mesma direção e soterrados na areia, como mostram
resultados publicados este mês na revista Journal of South American Earth Sciences. “Não sabemos qual era a frequência dessas chuvas”, conta Capretz, “no resto do tempo era quase desértico”.
A disposição dos fósseis vegetais permite reconstruir as
características dos rios – se eram caudalosos ou lentos, estreitos ou
largos, retos ou sinuosos. A descrição resultante contraria um quadro
traçado por estudos geológicos, de que a região seria caracterizada por
dunas semelhantes às que hoje se espraiam nos Lençóis Maranhenses. “Mas
não há samambaias nos Lençóis Maranhenses”, lembra Capretz, que adota a
máxima de que o presente é a chave do passado. Assim, seus resultados
ajudaram Tatiane a interpretar o que viu em suas folhas fossilizadas.
Essa dinâmica das águas também é responsável pela deposição de sílica
nos troncos, petrificando as samambaias. “Se não fossem submersas e
soterradas rapidamente por areia, elas se decomporiam”, explica o
ecólogo. Essas condições especiais tornam Tocantins muito importante
para estudos paleontológicos. “Não existem muitas áreas com vegetais
petrificados no país, por isso há poucos estudos desse tipo”, conta
Capretz.
Passado no presente
Rosemarie confirma que o clima é essencial para a boa preservação dos
fósseis: quando a alternância de estações é muito marcada, aumenta a
chance de ocorrer o tipo de fossilização encontrado no Tocantins, onde
os troncos e folhas foram preservados em suas três dimensões. “Na bacia
do Paraná os fósseis são bidimensionais”, lamenta, e isso dificulta a
comparação entre as duas regiões.
Mas quem caminha com frequência e atenção pela terra seca do
Monumento Natural das Árvores Petrificadas tem grandes chances de
encontrar fósseis. Essa riqueza muitas vezes faz a alegria de quem vende
fósseis, atividade proibida no Brasil. Por esse motivo, muito do
trabalho sobre a flora fóssil brasileira foi feito na Alemanha, onde
pesquisadores adquiriram material petrificado sem saber que a coleta
havia sido irregular. Ao menos esse material hoje está disponível aos
brasileiros por meio da colaboração de Francine e do grupo de Rosemarie
com Robert Noll e Ronny Rößler, este último diretor do Museu de
Chemnitz, onde estão fósseis que evidenciam a semelhança da flora
permiana do Tocantins e da Alemanha.
Os pesquisadores envolvidos no estudo das florestas petrificadas
alertam que não só os comerciantes de fósseis são uma ameaça à
preservação dessa história. A proteção excessiva, que impede acesso até
mesmo aos especialistas, é sentida por eles como um entrave ao avanço do
conhecimento. “Para estudar as gimnospermas é preciso coletar material e
preparar lâminas para exame ao microscópio”, exemplifica Rosemarie, “é
impossível identificar qualquer coisa a olho nu”. Rafael Faria, cuja
área de estudo está fora de áreas de preservação, aposta na divulgação
de seu trabalho para obter mais material. Já lhe aconteceu de receber
ligações de fazendeiros do interior paulista oferecendo fragmentos de
“pau-pedra” encontrados no chão.
Artigos científicos
CAPRETZ, R. L. & ROHN, R. Lower Permian stems as fluvial paleocurrent indicators of the Parnaíba Basin, northern Brazil. Journal of South American Earth Sciences. v. 45, p. 69-82. ago. 2013.
KURZAWE, F. et al. New
gymnospermous woods from the Permian of the Parnaíba Basin,
Northeastern Brazil, Part I: Ductoabietoxylon, Scleroabietoxylon and
Parnaiboxylon. Review of Palaeobotany and Palynology. v. 195, n. 1, p. 37-49. 16 ago. 2013.
KURZAWE, F. et al. New
gymnospermous woods from the Permian of the Parnaíba Basin,
Northeastern Brazil, Part II: Damudoxylon, Kaokoxylon and Taeniopitys. Review of Palaeobotany and Palynology. v. 195, n. 1, p. 50-64. 16 ago. 2013.











 As
folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem
diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com
qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito
paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,
um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os
paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos
fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma
mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie
diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram
muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase
de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa
característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a
bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa
protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num
ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias
dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso
são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a
subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos
quais elas cresciam.
As
folhas foram descritas como pertencentes a uma nova espécie por serem
diferentes do que já se tinha visto, mas é impossível determinar com
qual dos caules elas formavam uma planta viva. É que o conceito
paleontológico de espécie é bem distinto daquele empregado na biologia,
um foco de discussões infinitas entre especialistas. Como os
paleontólogos em geral não têm como reunir as diferentes partes dos
fósseis vegetais – raiz, caule, folhas etc. – no quebra-cabeça de uma
mesma planta, é aceito que cada parte seja descrita como uma espécie
diferente. No caso das samambaias fósseis do Tocantins, as folhas eram
muito mais espessas do que as das atuais, conforme mostra artigo em fase
de publicação na Review of Palaeobotany and Palynology. “Essa
característica tem tudo a ver com as condições ambientais”, explica a
bióloga, que foi orientada por Rosemarie. “A lâmina foliar espessa
protege as estruturas reprodutivas e evita a perda excessiva de água num
ambiente árido ou semiárido.” É surpreendente porque samambaias
dependem de água pelo menos em algumas fases reprodutivas, e por isso
são normalmente associadas a ambientes úmidos, mas o que permitia a
subsistência dessas grandes árvores eram os cursos de água à margem dos
quais elas cresciam.






 Reduzir
a população do mosquito transmissor da dengue, única forma atualmente
disponível para controlar a doença, é o objetivo de dois projetos
desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, um em Piracicaba, no
interior de São Paulo, e outro em Juazeiro, na Bahia. A meta de ambos é a
mesma: produzir em laboratório, em larga escala, machos da espécie Aedes aegypti
– que transmite o vírus causador da dengue – incapazes de gerar
filhotes saudáveis e depois soltá-los no ambiente para competir pelas
fêmeas com os congêneres selvagens. Mas as estratégias para atingir esse
fim são diferentes. Enquanto em São Paulo os insetos são bombardeados
com radiação gama para torná-los estéreis, na Bahia optou-se pela
transgenia (
Reduzir
a população do mosquito transmissor da dengue, única forma atualmente
disponível para controlar a doença, é o objetivo de dois projetos
desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, um em Piracicaba, no
interior de São Paulo, e outro em Juazeiro, na Bahia. A meta de ambos é a
mesma: produzir em laboratório, em larga escala, machos da espécie Aedes aegypti
– que transmite o vírus causador da dengue – incapazes de gerar
filhotes saudáveis e depois soltá-los no ambiente para competir pelas
fêmeas com os congêneres selvagens. Mas as estratégias para atingir esse
fim são diferentes. Enquanto em São Paulo os insetos são bombardeados
com radiação gama para torná-los estéreis, na Bahia optou-se pela
transgenia (